Será que a arte resiste a alguma coisa?

Série Rizoma.Net 004
Por Jacques Rancière Tradução de Mônica Costa Netto
O título da minha comunicação expressa uma dúvida quanto à boa maneira de formular o problema que nos reuniu aqui com o tema “Arte e resistência”. A dificuldade que este tema implica é simples de ser formulada: a junção dessas duas palavras faz imediatamente sentido. Mas isso ocorre no mundo da opinião. Em tal mundo, admite-se que a arte resiste e que ela o faz de modos diversos que convergem num poder único. Por um lado, a consistência da obra resiste à usura do tempo; por outro, o ato que a produziu, resiste à determinação do conceito. Supõe-se que quem resiste ao tempo e ao conceito naturalmente resiste aos poderes. O clichê do artista livre e rebelde é uma ilustração fácil e corriqueira dessa lógica da opinião.
O sucesso da palavra “resistência” depende, portanto, de duas propriedades. Dessas duas propriedades, isto é, por uma parte, do potencial homonímico da palavra, o qual permite que se construa uma analogia entre a resistência passiva da pedra e a oposição ativa dos homens. Por outra parte, da conotação positiva que ela conservou em meio a tantas palavras que caíram em desuso ou sob suspeita: comunidade, revolta, revolução, proletariado, classes, emancipação, etc. Já não é visto com bons olhos querer mudar o mundo para torná-lo mais justo. Mas, precisamente, a homonímia léxica da “resistência” é também uma ambivalência prática: resistir é assumir a postura de quem se opõe à ordem das coisas, rejeitando ao mesmo tempo o risco de subverter essa ordem. E sabe-se que, hoje em dia, a postura heróica daquele que “resiste” à corrente democrática, comunicacional e publicitária se acomoda de bom grado à deferência no que tange as dominações e explorações em vigor. Conhecemos, de resto, a dupla dependência da arte em relação aos mercados e aos poderes públicos e sabemos que os artistas não são nem mais nem menos rebeldes que as demais categorias da população.
Assim chega-se ao problema: se recusamos essas falsas evidências da
opinião, que sentido dar à conjunção dessas palavras? Que relação
estabelecer entre a idéia de uma atividade ou de um domínio chamado
“arte” e a de uma virtude específica da resistência? Quer dizer, em primeiro
lugar: que fazer com a homonímia da palavra “resistência” que contém
várias idéias numa palavra só? Supõe-se que a arte resiste segundo dois
sentidos de termos que são aparentemente contraditórios: como a coisa
que persiste em seu ser e como os homens que recusam-se a persistir na
situação deles. Em que condições essa equivalência entre duas
“resistências” aparentemente contraditórias é pensável? Como pode a
potência do que “ se mantém em si” ser ao mesmo tempo a potência do que
sai de si, do que intervém para subverter precisamente a ordem que define
sua própria “consistência” ? Um colóquio que tem Nietzsche como um de
seus dois santos patronos não pode, claro, deixar de transformar a questão
“como podemos pensar isso?” numa outra questão: por que devemos
pensá-lo? Por que temos a necessidade de pensar a arte ao mesmo tempo como uma capacidade de autonomia, de manter-se em si, e como uma potência de saída e de transformação de si?
Gostaria de examinar o nó problemático a partir de um texto do
segundo santo protetor de nosso encontro, Gilles Deleuze. No capítulo
dedicado à arte de O que é a filosofia? lemos o seguinte:
” O escritor torce a linguagem, fá-la vibrar, abraça-a, fende-a, para
arrancar o percepto das percepções, o afeto das afecções, a sensação da
opinião —visando, esperamos, esse povo que ainda não existe. (…) …é a
tarefa de toda arte: e a pintura, a música não arrancam menos das cores e dos sons acordes novos, paisagens plásticas ou melódicas, personagens rítmicos, que os elevam até o canto da terra e o grito dos homens —o que constitui o tom, a saúde, o devir, um bloco visual e sonoro. Um monumento não comemora, não celebra algo que se passou, mas transmite para o futuro as sensações persistentes que encarnam o acontecimento: o sofrimento sempre renovado dos homens, seu protesto recriado, sua luta sempre retomada. Tudo seria vão porque o sofrimento é eterno, e as revoluções não sobrevivem à sua vitória? Mas o sucesso de uma revolução só reside nela mesma, precisamente nas vibrações, nos enlaces, nas aberturas que deu aos homens no momento em que se fazia, e que compõem em si um monumento sempre em devir, como esses túmulos aos quais cada novo viajante acrescenta uma pedra. ” (O que é a filosofia?, Trad. Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Muñoz, São Paulo: ed. 34, 1992, pp. 228-
229 /Q.PH ?, p.167)

A palavra resistência não aparece neste texto. Contudo, podemos reconhecer nele a apresentação do problema que esta palavra recobre. Este
texto se aplica, com efeito, a resolver o problema: como transformar a
analogia das “resistências” em dinâmica? Por um lado, nos apresenta uma analogia entre dois processos: os homens sofrem, protestam, lutam, se
enlaçam por um instante antes que o sofrimento solitário reganhe seus
direitos; o artista torce e enlaça a linguagem ou extrai os perceptos plásticos
ou musicais das percepções óticas e sonoras para os elevar até o grito dos
homens. Há analogia, mas entre os dois existe aparentemente uma falha a
ser transposta. O artista trabalha “em vista” de um fim que este trabalho
não pode realizar por si mesmo: trabalha “em vista” de um povo que “ainda
falta”. Mas, por outro lado, este trabalho se apresenta como o
preenchimento do fosso que separa o enlace artístico do enlace
revolucionário. As vibrações e os enlaces adquirem uma figura consistente
na solidez do monumento. E a solidez do monumento é ao mesmo tempo
uma linguagem, o movimento de uma transmissão: o monumento “confia
ao ouvido do futuro” as sensações persistentes que encarnam o sofrimento
e a luta. Estas sensações se transformam na vibração e no enlace
revolucionário, que acrescentam a pedra deles no monumento do devir.
Um monumento que fala ao futuro e um futuro que tem ouvidos, é
realmente um pouco demais para ouvidos habituados a entender que a
recusa da metáfora é o alfa e o ômega do pensamento deleuziano. Ora,
aparentemente a metáfora reina neste texto, e reina em sua função plena: a
metáfora não é apenas um simples ornamento de linguagem, ela é, como
sua etimologia indica, uma passagem ou um transporte. Para ir da vibração
extraída pelo artista à vibração revolucionária, é preciso um monumento
que faça dos blocos de vibração uma linguagem endereçada ao futuro. Esta
passagem deve por si mesma condensar muitas passagens, vários saltos
conceituais: para operar o salto da torsão artística das sensações para a luta
dos homens, ela deve assegurar a equivalência entre a dinâmica da
vibração e a estática do monumento. É preciso que, na imobilidade do
monumento, a vibração chame uma outra, que ela fale a uma outra.
Todavia, esta palavra também é dúbia: ela é transmissão do esforço ou da
“resistência” dos homens e é a transmissão do que resiste à humanidade,
transmissão das forças do caos, forças captadas nele e incessantemente
reconquistadas por ele. O caos deve tornar-se (devenir) forma resistente, a
forma deve tornar-se novamente (redevenir) caos resistente. O monumento
deve tornar-se revolução e a revolução re-tornar-se (re-devenir)
monumento.
Através do jogo da metáfora, verifica-se que a fossa entre o presente da
obra e o futuro do povo é um laço constitutivo. O trabalho da arte não é
somente “em vista” de um povo. Este povo pertence à própria definição da
“resistência” da arte, isto é, da união dos contrários que a define ao mesmo
tempo como enlace dos lutadores fixados em monumento e como
monumento em devir e em luta. A resistência da obra não é o socorro que a arte presta à política. Ela não é a imitação ou antecipação da política pela arte, mas propriamente a identidade de ambas. A arte é política. Tal é a tese deleuziana fundamentalmente expressa nesta passagem. Para que a arte seja política, é preciso que ela seja a identidade de duas linguagens do monumento: linguagem humana desses monumentos dos quais Schiller dizia que eles transmitem aos homens do futuro a grandeza intacta das cidades livres desaparecidas; linguagem inumana das pedras românticas cuja palavra muda desmente a tagarelice e a agitação dos homens.
Para que a arte seja arte, é preciso que ela seja política; para que ela
seja política, é preciso que o monumento fale duas vezes, como resumo do
esforço humano e como resumo da força inumana que o separa de si
mesmo. Gostaria de me interrogar aqui sobre as condições de possibilidade
de uma tal tese. A investigação tem, para mim, dois aspectos: por um lado,
gostaria de mostrar que a tese deleuziana não é uma invenção singular de
um ou dois autores, mas a forma particular de um nó muito mais original
entre uma idéia da arte, uma idéia do sensível e uma idéia do futuro
humano; por outro lado, gostaria de analisar o lugar particular que esta
teoria ocupa no campo de tensões definido por esse nó original.
A obra como sensível extirpado ao sensível, sob a forma informe da
vibração e do enlace; o instantâneo da vibração ou do enlace como
monumento persistente da arte: singulares ao ponto de aparecerem no
texto de Deleuze, essas equivalências não são uma invenção sua. Elas vêm
de longe. E essa proveniência mesma se desdobra. Identifica-se a filiação
mais imediata: a vibração e o enlace vêm diretamente das páginas que
Proust dedica à música de Vinteuil. O sensível extirpado do sensível se
encontra no cerne da tese do Tempo Reencontrado. Mas a descrição e a tese
proustiana só são possíveis sobre a base de uma forma de visibilidade e de
inteligibilidade da experiência estética bem mais gerais e que definem todo
um regime de identificação da arte.
A idéia do sensível extirpado ao sensível, do sensível dissensual,
caracteriza propriamente o pensamento desse regime moderno da arte que propus chamar de regime estético da arte. E a idéia de uma forma de experiência sensível específica, desconectada das formas normais da experiência sensível é, com efeito, o que caracteriza este regime de percepção e pensamento da arte. Quando Deleuze nos fala de um trabalho
que extrai o percepto da percepção e o afeto da afecção, ele traduz a seu
modo a fórmula original do discurso estético, a fórmula resumida pela
analítica kantiana do belo: a experiência estética é a experiência de um
sensível duplamente desconectado: desconectado com relação à lei do
entendimento que submete a percepção sensível às suas categorias e com
relação à lei do desejo que submete nossas afecções à busca de um bem. A
forma apreendida pelo julgamento estético não é nem a de um objeto do
conhecimento nem a de um objeto do desejo. É este nem..nem… que define
a experiência do belo como experiência de uma resistência. O belo é o que
resiste ao mesmo tempo à determinação conceitual e à atração dos bens
consumíveis.
Esta primeira fórmula do dissenso ou da resistência estética foi o que, na época de Kant, separou o regime estético da arte de seu regime
representativo. Pois o regime clássico, o regime representativo da arte, era
governado precisamente pela concordância entre uma forma de
determinação intelectual e uma forma de apropriação sensível. Por um lado, a arte se definia como o trabalho da forma impondo sua lei à matéria. De outro, as regras da arte, definidas por essa submissão da matéria à forma, correspondiam às leis da natureza sensível. O prazer experimentado
verificava a adequação da regra. A mímesis aristotélica era isso: o acordo
entre uma natureza produtora – uma poiesis – e uma natureza receptiva –
uma aisthesis. A garantia deste acordo a três chamava-se natureza humana.
A “resistência” ou o “dissenso” dos quais Kant fornece a primeira
fórmula, é a ruptura desse acordo a três, isto é, a ruptura dessa natureza. A
experiência estética se mantém, daí por diante, entre uma natureza e uma
humanidade, ou seja entre duas naturezas e duas humanidades. O problema todo será saber como se determina esta relação sem relação, em nome de que natureza e de que humanidade. É exatamente o problema que
atravessa todos os textos de Deleuze sobre a arte: de uma humanidade à
outra, apenas a inumanidade, para ele, constitui caminho. Mas antes de
chegar a esse ponto é preciso passar por uma ou duas outras conseqüências
do dissenso constitutivo do regime estético da arte. A primeira
conseqüência é simples de ser enunciada: se o belo é sem conceito e se toda
arte é a operação de idéias que transformam uma matéria, segue-se que o
belo e a arte estão numa relação de disjunção. Os fins que a arte se propõe
estão em contradição com a finalidade sem fim que caracteriza a
experiência do belo. Para dar este passo, é preciso uma potência específica.
Para Kant, esta potência é a do gênio, que não é um observador das regras
da natureza, mas a própria natureza em sua potência criativa. Mas o gênio
deve, para isso, compartilhar a inconsciência da natureza. Não pode
conhecer a lei que rege sua operação. Para que a experiência estética do
belo seja idêntica a experiência da arte, é preciso que a arte seja marcada por uma dupla diferença: tem de ser a manifestação de um pensamento que se ignora num sensível extirpado das condições ordinárias da experiência sensível.

Coube, sem dúvida, à estética hegeliana a mais clara formulação dessa
disjunção. Conhecemos a fobia anti-hegeliana característica do pensamento
de Deleuze. A vibração, a composição e a linha de fuga deleuzianas são,
porém, ao seu modo, herdeiras da grande trinca hegeliana da arte
simbólica, arte clássica e arte romântica. De fato, foi Hegel quem fixou a
fórmula paradoxal da obra de arte sob o regime estético da arte: a obra é
uma inscrição material de uma diferença para consigo mesmo do
pensamento: começa pela vibração sublime do pensamento que busca
inutilmente sua morada nas pedras da pirâmide, continua no enlace clássico da matéria e de um pensamento que só consegue se realizar nela ao preço da sua própria fraqueza: a religião grega sendo desprovida de interioridade pode, com efeito, exprimir-se idealmente na perfeição da estátua de um deus; enfim, a obra é a linha de fuga da flecha gótica que se estende na direção de um céu inacessível e anuncia assim o fim em que, o pensamento alcançando enfim sua morada, a arte terá cessado de ser um lugar do pensamento. Portanto, dizer que a arte resiste quer dizer que ela é um perpétuo jogo de esconde-esconde entre o poder de manifestação sensível das obras e seu poder de significação. Ora, esse jogo de esconde-esconde entre o pensamento e a arte tem uma conseqüência paradoxal: a arte é arte, resiste na sua natureza de arte, apenas enquanto não é arte, enquanto não é o produto da vontade de fazer arte, enquanto outra coisa que a arte.
Esta “outra coisa” se chama, na obra de Hegel, espírito do povo: a estátua
grega, para nós, é arte apenas porque era outra coisa para seu escultor: a
representação do deus da cidade, a decoração de suas instituições e festas.
Ela se chama “medecina” , na obra de Deleuze, o qual cita a este propósito
uma frase de Le Clézio: “um dia, talvez saberemos que não havia arte, mas
somente medecina”.
As duas fórmulas não se opõem no seu princípio: a estátua grega é a
saúde de um povo, e a medecina deleuziana, como a de Nietzsche, uma
medecina da civilização. A diferença é que o representante da saúde do
povo grego se chama Apolo, enquanto o médico deleuziano assume a figura de Dionísio. Apolo e Dionísio não são simples personagens de Nietzsche. Se ele pôde teorizar a bipolaridade da tragédia grega, é porque essa bipolaridade já estruturava o regime estético da arte. Ela marca a maneira dúbia pela qual expressa-se a distância da arte para com ela mesma, a tensão do pensamento e do impensado que a definem. Apolo emblematiza o momento em que a união do pensamento e do impensado da arte se fixa numa figura harmônica. A figura de uma humanidade em que a cultura não se distingue da natureza, de um povo cujos deuses não se distanciam da vida da cidade. Dionísio é a figura do fundo obscuro que resiste ao pensamento, do sofrimento da natureza primordial debatendo-se contra a cisão da cultura. A “resistência” da arte, é, com efeito, a tensão dos
contrários, a tensão interminável entre Apolo e Dionísio: entre a figura feliz
do dissenso anulado, dissimulado na figura antropomórfica do belo deus de
pedra e o dissenso reaberto, exacerbado no furor ou no clamor dionisíaco:
na vontade do nada de Achab* ou no nada da vontade de Bartleby*, estes dois testemunhos da natureza primordial, da natureza “inumana”.
É aqui que a “dissensualidade” artística vem atar-se ao tema do povo
por vir. Para compreender este nó, precisamos retornar ao que funda o
regime estético moderno da arte: a ruptura do acordo entre as regras da arte e as leis da sensibilidade que era a marca da ordem representativa clássica. Nesta ordem, a forma ativa se impunha à matéria passiva através das regras da arte. E o prazer experimentado verificava se as regras da poiesis artística correspondiam às leis da sensibilidade. Tal verificação se dava pelo menos para aqueles cujos sentidos podiam ser tomados por testemunhos verídicos: os homens de gosto, os homens da natureza refinada oposta à natureza selvagem. Isto é, a ordem representativa consistia numa dupla hierarquia: comando da forma sobre a matéria e distinção entre a natureza sensível selvagem e a natureza sensível refinada: “ O homem de gosto, dizia Voltaire, tem outros olhos, outros ouvidos, um outro tato que o homem grosseiro”.
A revolução estética revoga essa dupla hierarquia. A experiência estética
suspende o comando da forma sobre a matéria, do entendimento ativo
sobre a sensibilidade passiva. De modo que a “dissensualidade” estética não
é simplesmente a cisão da velha “natureza” humana. É também a revogação
do tipo de “humanidade” que ela implicava: uma humanidade estruturada
pela distinção entre homens de sentidos grosseiros e os homens de sentidos
refinados, os homens da inteligência ativa e os homens da sensibilidade
passiva. O §60 da Crítica da Faculdade de Julgar, enxergando a
universalidade estética como mediadora de um novo sentimento de
humanidade, já anunciava o princípio de uma “comunicação” que ultrapassa a oposição entre o refinamento das classes cultivadas e a simples natureza das classes incultas. Por detrás do “monumento que fala ao futuro” de Deleuze, é preciso que se ouça a música original dessa “comunicação” kantiana. É preciso também que se lembre que a Crítica da Faculdade de Julgar é contemporânea da Revolução Francesa. Pois um autor tirou todas as conseqüências desta contemporaneidade. Schiller, em suas cartas Sobre a Educação Estética do Homem, trouxe à tona o significado político da “resistência” ou do “dissenso” estético. O livre jogo estético e a universalidade do julgamento de gosto definem uma liberdade e uma igualdade novas, diferentes das que o governo revolucionário quis impor sob a forma da lei: uma liberdade e uma igualdade não mais abstratas, mas sensíveis. A experiência estética é a de um sensorium inédito, em que abolem-se as hierarquias que estruturavam a experiência sensível. É por isso que a experiência estética traz consigo a promessa de uma “nova arte de viver” dos indivíduos e da comunidade, a promessa de uma nova humanidade.
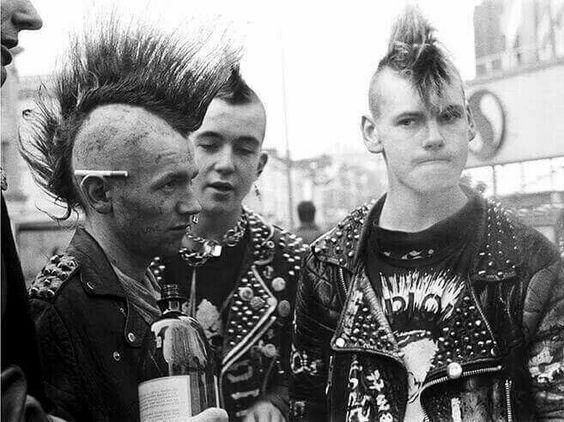
A resistência da arte define, assim, uma “política” própria que se declara
mais apta que a outra para promover uma nova comunidade humana, unida não mais pelas formas abstratas da lei mas pelos laços da experiência vivida.
É portadora da promessa de um povo por vir que conhecerá uma liberdade
e uma igualdade efetivas e não mais apenas representadas. Mas essa
promessa é afetada pelo paradoxo da “resistência” artística. A arte promete
um povo de dois modos contraditórios: por ser arte e por não ser arte.
Por um lado a arte promete em virtude da resistência que a constitui,
em razão da sua distância das outras formas da experiência sensível. Na
décima quinta carta sobre A Educação Estética do Homem, logo após nos
ter assegurado que o livre jogo estético era fundador de uma nova forma de
vida, Schiller nos instala imaginariamente diante de uma estátua grega
conhecida como a Juno Ludovisi. A deusa está, nos diz ele, fechada em si
mesma, ociosa, livre de toda preocupação e de todo fim. Ela nem comanda
nem resiste a nada. Compreendemos que essa “ausência de resistência” da
deusa define a resistência da estátua, sua exterioridade com relação às
formas normais da experiência sensível. É porque ela não quer nada, porque ela é exterior ao mundo do pensamento e da vontade que comandam, porque ela é, em suma, “inumana”, que a estátua é livre e prefigura uma humanidade liberta como ela das amarras do querer que oprime. É porque ela é muda, porque ela não nos fala e não se interessa pela nossa humanidade, que a estátua pode “confiar aos ouvidos do futuro” a promessa de uma nova humanidade. O paradoxo da resistência sem
resistência se manifesta então em toda sua pureza. A resistência da obra de
arte representando a deusa que não resiste chama um povo por vir. Mas ela
o chama justamente na medida em que permanece distante, afastada da
vontade humana. A resistência da estátua promete um futuro aos homens
que, como ela, cessariam de resistir, cessariam de traduzir em luta seus
sofrimentos e queixas.
Mas a perspectiva logo se modifica e o paradoxo se apresenta de forma
inversa: a arte é portadora de promessa, para Schiller, na medida em que
consiste no resultado de algo que, para os que o fizeram, não era arte. A
liberdade resistente da estátua de pedra resulta de ser ela a expressão de
uma determinada liberdade – ou, em termos deleuzianos, de uma saúde. Ou
seja, a liberdade auto-suficiente da estátua e a do povo que nela se
exprimiu. Ora, um povo “livre”, desta perspectiva, é aquele que não
conhece a arte como realidade separada, que não conhece a separação da
experiência coletiva em formas distintas chamadas arte, política ou religião.
De modo que o que a estátua promete é um futuro em que, novamente, as
formas da arte não serão mais distintas das formas da política, nem das
formas da experiência e da crença comuns a todos. A “resistência” da arte
promete um povo na medida em que promete sua própria abolição, a
abolição da distância ou da inumanidade da arte. A arte ganha como
objetivo sua própria supressão, a transformação das suas formas em formas de um mundo sensível comum. Da Revolução Francesa à Revolução soviética, a revolução estética significou essa auto-realização e essa auto-supressão da arte na construção de uma nova vida, na qual a arte, a política, a economia ou a cultura se fundiriam numa mesma e única forma de vida coletiva.
Sabe-se que esta auto-supressão da arte na construção da comunidade
realizou-se de forma completamente diferente do que se pensava. Por um
lado, ela foi inteiramente tragada pela disciplina de um regime soviético que não queria saber de artistas construtores de formas de vida e queria apenas artistas ilustradores de sua própria maneira de construir a nova vida. Por outro, o projeto de uma arte que forma as formas da vida cotidiana realizou-se ironicamente na estetização da mercadoria e da vida cotidiana do capitalismo. Este destino dúbio, trágico e cômico, do projeto de uma arte tornada vida, como reação, nutriu a outra grande forma da metapolítica estética: a idéia de uma arte que acompanha a resistência dos dominados e promete uma liberdade e uma igualdade por vir, na medida mesmo em que afirma sua resistência absoluta a qualquer comprometimento com as tarefas do militantismo político ou a estetização das formas da vida cotidiana. Isso é bem resumido na fórmula de Adorno: “a função social da arte é de não ter função”. Nesta concepção, a arte não resiste unicamente pelo fato de assegurar sua distância. Resiste porque seu próprio enclausuramento se declara insuportável, porque ela é o lugar de uma contradição inultrapassável. O que a solidão da arte não cessa de
representar para Adorno, é a contradição entre sua aparência autônoma e a
realidade da divisão do trabalho, simbolizada pelo famoso episódio da
Odisséia que separa o autocontrole de Ulisses, amarrado ao mastro, o
trabalho dos marinheiros com os ouvidos tampados e o canto das sereias.
Para melhor denunciar a divisão capitalista do trabalho e os
embelezamentos da mercadoria, a música de Schönberg deve ser ainda mais mecânica, ainda mais “inumana” que a linha de produção fordista. Mas esta inumanidade, por sua vez, faz aparecer a operação do reprimido, a separação capitalista do trabalho e do gozo. É na repetição sem fim do jogo da inumanidade do humano e da humanidade do humano que a resistência da obra mantém a promessa estética de uma vida reconciliada. Mas ela só a mantém ao preço de deferi-la indefinidamente, de recusar como simulacro toda reconciliação.
A “resistência” da arte aparece, assim, como um paradoxo de dupla
face. Para manter a promessa de um novo povo, ela deve ou suprimir-se, ou diferir indefinidamente a vinda desse povo. A dinâmica da arte, há dois séculos, talvez seja a dinâmica desta tensão entre dois polos, entre a autosupressão da arte e o diferimento indefinido de seu povo. O paradoxo na política da arte remete justamente ao paradoxo da sua definição no regime estético da arte: as coisas da arte não se encontram aí definidas, como antes, pelas regras de uma prática. Elas se definem pelo pertencimento a uma experiência sensível específica, a de um sensível subtraído às formas habituais da experiência sensível. Mas essa diferença nas formas da experiência não seria uma diferença na natureza mesma dos produtos. O sensorium estético que torna visível os produtos da arte como produtos da arte, não lhes concede com isso nenhuma matéria, nenhuma qualidade sensível que lhes pertença propriamente. A diferença da arte só existe se ela é construída caso a caso, passo a passo, nas estratégias singulares do artista. O artista deve fazer intencionalmente uma obra capaz de emancipar-se como potência do impessoal e do inumano. E deve fazê-lo arriscando a cada passo que essa impessoalidade da arte se confunda como uma outra, com a prosa ou os clichês de um mundo do qual nenhuma barreira real a separa. A diferença estética deve ser feita a cada vez sob a forma do como se. A obra é a metáfora prolongada da diferença inconsistente que a faz existir como presente da arte e futuro de um povo.
É este destino melancólico da arte e de sua política que Deleuze recusa.
Ele pensa, em primeiro lugar, forçar o dilema que aprisiona a arte entre a
auto-supressão da resistência ou a manutenção de uma resistência que
difere indefinidamente o povo por vir. Ele quer que a vibração de um lá ou o enlace de duas formas plásticas tenham a resistência de um monumento.
Ele quer que o monumento fale ao futuro, que uma nota de Berg, o ringue
de boxe de uma tela de Bacon ou a história da metamorfose contada por
uma novela de Kafka produzam, não a promessa de um povo, mas a sua
realidade, uma nova maneira de “povoar” a terra. Esta torção do dilema
político da estética supõe uma outra torção na própria definição do
processo da arte. Para Deleuze, a arte não pode ficar no regime do como se
e da metáfora: é preciso que seu sensível seja realmente diferente. É preciso
que o inumano que a separa de si mesma seja realmente inumano. Nada
mais significativo, deste ponto de vista, que sua relação com Proust. Toma-lhe emprestado a vibração e o enlace que testemunham o confronto de
duas ordens, a do sensível organizado pelo entendimento e a do verdadeiro
sensível. Mas, em Proust, a diferença é em última instância o trabalho da
metáfora. A metáfora forjada pelo escritor deve testemunhar a irrupção
involuntária da verdade, isto é, conferir-lhe sua realidade literária. Deleuze,
por sua vez, recusa que a metáfora seja em última instância a verdade da
sua verdade. Ele quer que ela seja uma metamorfose real: a literatura deve
produzir, não uma metáfora, mas uma metamorfose. O sensível que ela
produz deve ser tão diferente daquele que organiza nossa experiência
cotidiana quanto a barata no quarto de Gregório Samsa é diferente do bom
filho e do honesto empregado Gregório Samsa. A melodia schumaniana
deve se identificar ao canto da terra. Achab deve ser o testemunho da
“natureza primordial” e Bartleby deve ser um Cristo, o mediador entre duas
ordens radicalmente separadas. Para tanto é preciso que o artista tenha ele
próprio passado “do outro lado”, que ele tenha vivido algo de demasiado
forte, de irrespirável, uma experiência da natureza primordial, da natureza
inumana da qual ele retorne “com os olhos avermelhados” e marcado na
carne. Assim é possível ultrapassar o como se kantiano, a metáfora
proustiana ou a contradição adorniana. Resta saber qual o preço a ser pago
por este excesso. E o preço a pagar é propriamente a reintrodução de uma
transcendência no pensamento da imanência.

Esses olhos avermelhados, essa relação com algo forte demais, de
irrespirável, nos lembram uma outra experiência filosófica de encontro
entre duas ordens. Lembram a dramaturgia kantiana da experiência do
sublime que confronta a ordem sensível à ordem supra-sensível. Para
Deleuze, a potência do dissenso artístico não pode expressar-se na simples
distância da poiesis à aisthesis. Ela deve ser a potência comunicada à poiesis pela superpotência de uma aisthesis, isto é, em última análise, a potência da diferença ontológica entre duas ordens de realidade. O artista é aquele que foi exposto à superpotência do sensível puro, da natureza inumana e o trabalho que extrai o percepto da percepção é o efeito da exposição à essa superpotência. Essa conceitualização retoma, da teoria kantiana do sublime, a idéia do confronto entre duas ordens. A diferença é que, em Kant, o confronto da imaginação com uma experiência sensível do incomensurável introduzia o espírito à tomada de consciência do poder superior da razão e de sua vocação supra-sensível. Já em Deleuze, o supra-sensível encontrado na experiência sublime não é o inteligível, mas o sensível puro, o poder inumano da vida. A imanência deve portanto fazer-se transcendência. Mas ainda, em Kant, a experiência do sublime nos fazia sair do domínio da arte e da estética, marcando a passagem da esfera estética para esfera moral. Em Deleuze esta diferença da autonomia estética para com a autonomia moral é reinvestida no próprio cerne da prática artística e da experiência estética.
A arte é a transcrição da experiência do sensível supra-sensível, a
manifestação de uma transcendência da Vida, que é o nome deleuziano doSer. Ela é a transcrição de uma experiência de heteronomia do humano no que diz respeito à Vida.
Em que medida esse poder heteronômico da Vida pode tornar-se a
potência de um coletivo humano em luta? Para colocar esta questão, me
parece útil comparar a formulação deleuziana com a de um filósofo
contemporâneo de Deleuze que, das mesmas pressuposições, extraiu
conseqüências diametralmente opostas. Lyotard deu ao sublime kantiano o
lugar de princípio da arte moderna. Para ele, a arte moderna inteira é a
inscrição de um desacordo sublime entre o espírito e uma potência sensível
excedente, uma potência que desampara o espírito. E, para ele também,
essa potência do sensível supra-sensível é a de um Inumano. Ele procede
portanto, como Deleuze, por inversão da análise kantiana. Como Deleuze,
transforma a distância entre duas esferas em experiência de uma
transcendência do sensível a si próprio. E, como ele, faz da experiência
dessa transcendência o princípio mesmo da prática artística. Mas Lyotard
daí extrai uma conseqüência completamente diferente. Deleuze e Guattari
escrevem um Kafka para contrapor essa superpotência do sensível
excepcional ao reino edipiano paranóico do pai e da lei e a partir daí
estabelecer o princípio de uma comunidade fraterna. Lyotard tira a
conclusão inversa. O choque do sensível supra-sensível não é a força
deterritorializante que faz do monumento um chamado aos enlaces
fraternos do futuro. É a força que separa o espírito de si mesmo, que
testemunha sua alienação primordial e irremediável ao poder do Outro. Este outro recebe o nome da Coisa freudiana antes de receber o nome de Lei. A arte torna-se o testemunho dessa dependência imemorial do espírito em relação ao Outro. A utopia fraterna é apenas um avatar desse sonho de
emancipação surgido à época do Iluminismo, o sonho de um espírito senhor
de si e de seu mundo, livre do poder do Outro. Para Lyotard, essse sonho de
uma humanidade senhora de si não é apenas ingênuo, mas criminoso. É ele
que se realiza no genocídio nazista. O extermínio dos Judeus da Europa é de
fato o extermínio do povo testemunho da dependência do espírito em
relação à lei do Outro. A resistência da arte consiste, assim, em produzir um duplo testemunho: testemunho da alienação inultrapassável do humano e testemunho da catástrofe que surge da ignorância dessa alienação. Por isso Lyotard extrai da reinterpretação da distância sublime conseqüências opostas às do povo por vir deleuziano. Elas são sem dúvida alguma menos simpáticas. Receio infelizmente que elas sejam mais lógicas, que a transcendência instaurada no cerne da Imanência signifique, de fato, a submissão da arte a uma lei de heteronomia que recusa toda transmissão da vibração da cor e do enlace, das formas às vibrações e aos enlaces de uma humanidade fraterna.
Talvez seja preciso escolher: ou bem a diferença sensível que institui a
arte é uma diferença sem consistência ontológica, uma diferença a cada vez
refeita no trabalho singular de despersonalização próprio de um
procedimento artístico particular. A apropriação artística do inumano
permanece o trabalho da metáfora. E é através dessa precariedade que ela
se liga ao trabalho precário e sempre sob ameaça da invenção política, que
separa seus objetos e cenários da normalidade dos grupos sociais e conflitos
de interesse que lhes são próprios. Ou bem, transforma-se a diferença
poética em diferença ontológica. Mas essa operação significa afogar as
especificidades da invenção política ou artística numa mesma experiência
sensível supra-sensível. O devir político da arte torna-se a confusão ética em que ambas, arte e política, se evanescem precisamente em nome da sua união. E o que decorre logicamente desta confusão não é uma humanidade tornada fraterna pela experiência do Inumano. Mas uma humanidade remetida à vaidade de todo sonho fraterno.
O tema “resistência” da arte, portanto, não é de forma alguma um
equívoco de linguagem do qual poderíamos nos livrar mandando a
consistência da arte e a protesto político cada qual para o seu lado. Ele
designa bem a ligação íntima e paradoxal entre uma idéia da arte e uma
idéia da política. Há dois séculos que a arte vive da tensão que a faz existir,
ao mesmo tempo, em si mesma e além de si mesma e prometer um futuro
fadado a permanecer inacabado. O problema não é mandar cada qual para
o seu canto, mas de manter a tensão que faz tender, uma para a outra, uma
política da arte e uma poética da política que não podem se unir sem se
auto-suprimirem. Manter essa tensão, hoje em dia, significa sem dúvida
opor-se à confusão ética que tende a se impor em nome da resistência, com
o nome de resistência. O movimento do monumento ao enlace e do enlace
ao monumento só termina ao preço de sua anulação. Para que a resistência
da arte não esvaneça no seu contrário, ela deve permanecer a tensão
irresolvida entre duas resistências.
*Personagens de romances de Herman Melville



0 comentário